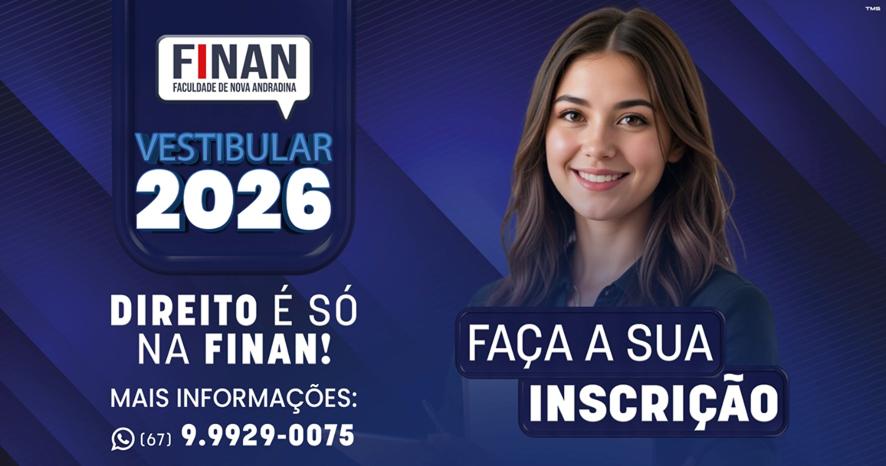*Daniel Medeiros
O forte apache era um dos brinquedos mais incríveis que o menino já tivera. As paliçadas, o portão e as casas internas eram de madeira. Apenas os postos de observação eram de plástico marrom escuro, encaixados. Os seus cowboys circulavam com seus cavalos ou apontavam seus rifles para o horizonte do quintal de areia da sua casa da infância. Lá longe, atrás dos formigueiros, as cabeças dos índios com suas lanças, rifles e arcos e flechas indicavam uma ameaça iminente. A tensão era grande. De repente, abria-se o portão do forte e um cavaleiro solitário, com um pedacinho de pano branco na mão – a mãe ralhava e tentava acertá-lo com uns tapas no cocoruto quando descobria seus panos de prato cortados – ia vagaroso em direção às montanhas, a poeira levantando alto, ao fundo só se ouvindo o cacarejar das galinhas índias ciscando dentro do galinheiro. Toda a cena se passava no centro do quintal, debaixo da jaqueira de jacas duras, o que adicionava um outro elemento de perigo ao evento: a qualquer momento, uma bruta poderia deslizar do galho mais alto e sufocar toda a tropa debaixo de gomos grudentos e madeiras destruídas.
A estratégia do ataque era sutil e fora longamente discutida pelos líderes. A ideia era fazer os inimigos se revelarem, imaginando que haveria uma rendição. A cena era repetida muitas vezes, a mão do menino fazendo o cavalo rajado percorrer a distância entre o forte e os formigueiros, desviando de uma ou outra saúva que continuava em sua marcha, indiferente ao sangrento conflito que estava por começar.
O momento da batalha exigia outras providências estéticas importantes, e aí, as agulhas da caixa de cerzir e o fundinho do vidro de esmalte vermelho que a mãe já quase não usava vinham a calhar. Difícil era decidir quem cairia em batalha, quem seria ferido e quem conseguiria se esgueirar entre os gritos de horror e rostos retorcidos para acabar com a raça do líder inimigo. Seria a vez de os cowboys vencerem mais uma vez ou seriam os índios – hoje seriam os indígenas, os povos originários, embora tudo se passasse perto das montanhas rochosas, nos vales de canyons soprados pelo vento que faziam rolar as touceiras e deixavam os lobos inquietos, uivando sem parar – quem levaria a melhor. Outra dúvida que atormentava é se haveria ou se não haveria fogo, flechas incendiárias jogadas para dentro do forte, gerando um corre corre das mocinhas e das senhoras, agarradas aos seus rebentos. Depois de breve deliberação interna, um sanduíche feito às pressas com um pouco da carne do almoço – a mãe ralharia quando descobrisse, era pro jantar, e tentaria mais uma vez alcançá-lo com suas mãos pequeninas – decidia-se pela ausência do fogo, pensando principalmente no risco de danos ao brinquedo que amava tanto.
A batalha desenrolava-se rápido. Não havia palavras, todas existiam somente dentro da sua cabeça: os gritos, palavrões, esgares, uivos, brados de valentia e chamamentos à luta. O quintal continuava silencioso, quebrado pelos pios dos pintinhos junto às mães, a cachorra enorme ressonando sob o sol do fim da tarde, esperando o dono que traria seu jantar feito de restos de comida do refeitório da base aérea para dar força para a longa noite de vigília contra os assaltantes de ocasião, que aproveitavam a casa de esquina para roubar uma roupa do varal ou mesmo frutas dos diversos pés que nas manhãs enchiam o areal de folhas amarronzadas.
Desta vez, os cowboys massacraram os nativos, aprisionando o chefe guerreiro e o líder espiritual da tribo, levando-os, cabisbaixos, para exibi-los dentro do forte aos que lá ficaram e confiaram em seus heróis.
A história interrompia-se bruscamente com um chamado de dentro da casa ou, simplesmente, com o fim da vontade de brincar disso, ou pela atenção desviada para alguma outra brincadeira, como iniciar uma batalha sem tréguas contra o ataque das formigas alienígenas ou as lagartas assassinas do tronco do coqueiro. A mente fervilhava de histórias e de vozes. De longe, às vezes, a mãe olhava e preocupava-se: esse menino é muito sozinho, sempre quieto. Será que tem algum problema?